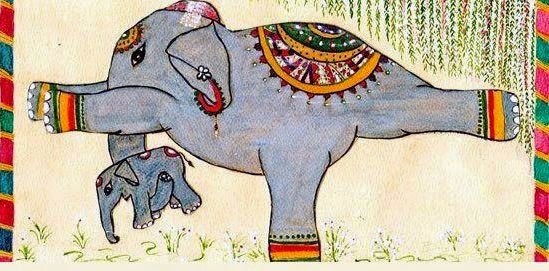Pode soar contraditório, mas religião existe sem
religiosidade e religiosidade existe sem religião. Não faz muito tempo, eu
estaria tagarelando sobre o tema. Mas agora é diferente. Um senso de
responsabilidade me faz silenciar. Escrevo este texto sem nenhuma intenção de
ofender quem quer que seja. E penso, penso muito, antes de falar sobre religião
e religiosidade. E esse tanto pensar não é garantia de que falarei com propriedade.
Então, eu rezo. Om! Nos círculos em que convivo encontro todo o tipo de fé:
católicos, presbiterianos, os da Igreja Maranata, os da Igreja Universal, os da
Nuvem da Graça, os da Snow Ball Church
(tradução: Igreja da Bola de Neve. Isso mesmo, você não leu errado!), mórmons, adventistas
do sétimo dia, espíritas “kardecistas”, daimistas, budistas, batistas,
islâmicos, luteranos, testemunhas de Jeová, messiânicos, judeus, judeus
messiânicos (assumem Jesus como o Messias), Sahaja Yoguis, devotos de Sai Baba,
os Hare Krsnas, místicos de todo tipo (dentre estes a lista é grande, então é
preciso resumir) , hippies, cientistas,
hedonistas, dinheiristas, os escolistas-de-samba, fashionistas, os cultuadores
do corpo, os da congregação da Herbalife , os agnósticos e os ateus. Tem gente que até
combina uma fé com a outra: sintam-se livres para análise combinatória da fés. Por
falta de denominação oficial, tive de criar aqui nomes para algumas fés, para melhor
me fazer entender. Eu mesma fui turista espiritual durante um bom tempo da
minha vida. Eu mesma, em diferentes momentos, já experimentei e também combinei
as fés que citei. Quais delas? Todas, exceto duas ou três, e foi só por falta
de oportunidade, e não por alguma antipatia ou aversão a priori. De algumas tive apenas uma rápida degustação, em outras
mergulhei. O que havia de comum? Eu. Eu estava lá. Experimentando. As religiões
são conjuntos de dogmas (verdades fundamentais de caráter indiscutível) que
determinam preceitos e proibições, de acordo com os quais o fiel, congregado ou
devoto deve pautar seu comportamento no mundo e seu modo de se relacionar com
Deus. Do cumprimento ou não das regras, vêm a salvação ou a danação eternas. Intuitivamente,
as pessoas têm necessidade de se conectar com algo superior, capaz de reger e
dar sentido à vida, conferindo-nos, de uma vez por todas e de forma absoluta, a
felicidade. Esse “algo superior” é o que chamamos Deus, a totalidade. Em função de variáveis diversas ― sobre as
quais não convém discorrer neste momento para não transformar este artigo num
tratado ―, ocorrem deformações na expressão desse “algo superior” dentro da
psique humana e daí, no lugar que seria ocupado por Deus, surgem outras
expressões, mais ou menos concretas, do ponto de vista relativo, porém todas
mais limitadas que o conceito de Deus, tais como o dinheiro, o conhecimento, o
poder, o sucesso, a fama, a beleza, o prazer, devido ao seu potencial de
produzir felicidade transitória. De acordo com o que me foi ensinado desde
muito cedo, Deus criou o mundo e a nós, as criaturas. Ele vivia lá na Morada
Divina, no Céu, enfim, num lugar que nunca pode de verdade entender onde
ficava, e de lá mandava recompensas e castigos de acordo com sua decisão prévia
sobre quem era agraciado ou desgraçado (Santo Agostinho). Um pouco mais tarde,
trocaria a parte do raciocínio referente ao critério de graça e desgraça pelo
critério do merecimento ou dignidade: recompensas e castigos de acordo com mérito
e demérito. Mas Deus continuava lá, lá bem longe, inexorável, mandando essas
coisas. De qualquer modo, a gente tinha de rezar, esperando estar na lista dos
agraciados ou merecedores. Aparentemente, Deus me mandava recompensas e
castigos alternadamente, não dava para concluir se era agraciada ou desgraçada,
merecedora ou indigna. O problema da dor não tinha solução.E restava ainda problema do destino: todos morreremos e,
pior, sabemos disso! Se fomos criados e colocados aqui, para onde iremos?
Recebi muitas respostas: céu, plano espiritual, mundo dos mortos, umbral,
purgatório, inferno, juízo final e o “nada”. Apesar disso, porém, a maioria de
nós sente a morte bem longe, lá no fim da vida, onde, aliás, ela está, só não
sabemos se isso será daqui 20 anos, 20 dias ou 20 minutos. O mesmo não acontece
com a polaridade do bem e do mal, a qual, querendo ou não, testemunhamos e vivenciamos
dia a dia. Não podendo ignorá-la como fazemos com a morte, dela tentamos escapar
de várias maneiras. A principal forma de fugirmos do mal é a identificação de
nós mesmos (ego) com o bem e a projeção do mal nos outros, com sua
personificação máxima em Satanás ("o inferno são os outros” ― fala de uma personagem na peça Huit-Clos de Sartre). E ninguém pode se sentir seguro ou viver em paz convivendo com demônios. As religiões
em geral reforçam este equívoco separando o bem do mal, sendo Deus um
repositório exclusivo do bem. Quando vislumbramos a sombra do mal em nós,
sentimos que estamos separados de Deus. Nenhuma religião ou pensamento
filosófico se mostrou completamente hábil a me mostrar uma saída para este
labirinto que é viver. Mas aquele sentimento natural que nos impulsiona à
conexão com “algo superior” permanece. Demora um tanto para uns, bem mais para outros
e nem chega para outros tantos, o entendimento de que essa busca não se faz
para fora e sim para dentro. Religiões, assim entendidas como aquele conjunto
de dogmas que modulam o pensamento e o comportamento dos devotos, são
expressões eminentemente externas, e, por serem assim, podemos dizer que são os
primeiros passos do caminho espiritual ou rudimentos da espiritualidade. A
religiosidade, no entanto, é o sentimento religioso, a capacidade de
transcender aos objetos da adoração e do culto externo e buscar o significado teleológico
da religião que é a conexão com algo superior, que, não estando do lado de fora, nos objetos, só
pode ser encontrado em nós mesmos, no sujeito (em outra oportunidade vamos falar aqui Blog sobre o que é necessário para que isso ocorra). A religiosidade madura se converte em devoção. De
verdade, são palavras sinônimas. Eu prefiro usar a palavra devoção. A devoção
pressupõe a compreensão de que existe uma ordem dentro da qual existimos, que determina
o resultado das nossas ações e a qual não podemos controlar. E justamente por
saber que não estamos no controle, rezamos e fazemos nossas saudações a esta
ordem superior. A consciência de que não
estamos no controle nos livra da culpa. A devoção pressupõe a ausência de
julgamentos, sem separação do bem e do mal, pois esta é a única forma de se
viver em paz. Ser devoto significa reverenciar o sagrado que tudo permeia, e “tudo”
inclui o próprio devoto. Para um devoto verdadeiro, qualquer forma de Deus é
sagrada, por isso, ele prescinde de uma religião. Honra-se a vida, a própria e
a dos demais seres, humanos e não humanos, de todos os reinos, de todas as
cores, de todos os mundos. Ser devoto é sentir e desfrutar do perfume da bem aventurança, da
Totalidade que é Deus. Harih Om हरिः ओम्